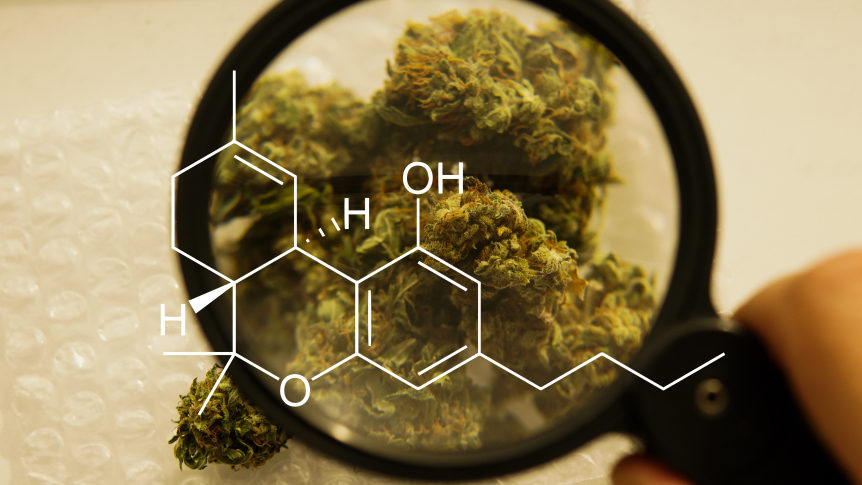Todo mundo sabe onde estava em 11 de setembro de 2001. Da mesma forma, ninguém esquecerá como, com quem e onde passou o grande isolamento da pandemia do coronavírus.
Determinadas situações são chamadas “acontecimentos”. Viram História, modificam a sociedade, a cultura, as artes, as relações humanas. Isso é benéfico. Segundo a psicanálise, não há evolução sem crise. Nos períodos de sofrimento e restrições há um ponto de mutação: a pessoa chega a uma fronteira diante da qual precisará tomar uma atitude para superar certos traumas.
A pandemia isolou as pessoas, mas conduziu boa parte delas para dentro de si. Tornaram-se menos massa de manobra; passaram a refletir melhor, sem ajuda externa. O que é importante na vida? Tem gente que paga caro para morar perto da praia e nunca a aproveitava. A razão? Trabalhava demais. Sequer tinha tempo para fazer check-up, exames de rotina.
Afastadas dos outros sim, mas não sem empatia. Símbolo de confiança e amizade entre as pessoas, o gesto do aperto de mão remonta aos primórdios da humanidade. Historiadores garantem que a origem se deu nas cavernas, como forma de o homo sapiens se apresentar desarmado ao interlocutor, demonstrando, no mínimo, boas vontade e intenção. O pânico da Covid-19 tornou esse rito obsoleto – pior: em certas ocasiões ele se torna absolutamente constrangedor. Um vem com a mão estendida; o outro, com o punho cerrado. Não se entendem na comunicação: devo abrir ou ele fecha? Nisso nascem novos códigos e cumprimentos, como saudações tocando os cotovelos ou acenos de longe, sem contato físico. Mudam as noções de etiqueta, os sinais de carinho.
Conheço um rapaz que jogava futevôlei todo dia e agora está há quase dez meses sem pisar na areia. Após anos distanciados, seus pais vieram da Europa e dele não receberam um abraço sequer. O mais louco é que não trocar afeto significa afeto. Pura prova de amor se sacrificar para proteger quem ama.
No Irã o povo encampou a campanha “não aperto sua mão porque te amo”. No Líbano, cumprimentar tocando os pés ganha cada vez mais adeptos. Gaúchos não vêm compartilhando chimarrão; padres holandeses pararam de levar hóstia à boca dos fieis; na Romênia, o Dia Internacional da Mulher substituiu beijos por buquês. Não duvido que até na Jamaica certos rituais coletivos tenham mudado.
Inegável que o coronavírus vem transformando a maneira como nos relacionamos. Nunca ficamos tanto tempo longe daqueles que mais prezamos, assim como jamais tivemos tanto pavor de nos aproximar de estranhos. Esse isolamento social pode vir a provocar danos irreversíveis. Se quem sempre valorizou estar sozinho sente agora falta de calor humano, o inverso já faz sentido. Consequência inevitável: mais comunicação ainda por celular; reuniões sem presença física; contratos selados sem brinde.
Detalhe: nem todos têm uma casa confortável para permanecer por tanto tempo. Nem toda mãe ou avó suporta bem tamanha ausência de seus queridos. O que há de acontecer a médio ou longo prazo com os relacionamentos afetivos ou com a saúde de quem amamos? Será que em 2021 tudo vai ser diferente ou 2020 terá sido “o primeiro ano do resto de nossas vidas”?
Ao menos houve ampla gama de alterações positivas. O planeta está mais limpo. As pessoas parecem mais leves em relação a seu trabalho e way of life – principalmente nos quesitos prazo e qualidade de vida. Ver tanta morte no noticiário nos aproxima dos desconhecidos: muitos passamos por dramas parecidos; finalmente conseguimos nos colocar no mesmo lugar. A saúde voltou a ser prioridade. Amigos e parentes que mal se viam se falam mais. A relevância dada a noitadas e futebol se alterou. Assim como se ampliou a busca por atividades físicas e fortalecimento mental e espiritual.
Para o ano que se inicia vale refletir sobre as próprias ações, sobre o que pensamos do outro. Temos que valorizar as relações e entender como o que fazemos pode afetar outra pessoa. A indústria das fake news, por exemplo, merece ser levada mais a sério. No Congo, parte da população chegou a atacar médicos após viralizar a ideia de que os profissionais da saúde passam o vírus adiante por terem contato direto com infectados.
De toda forma, que maravilha vivermos a era das redes sociais! Imagina se estivéssemos com contato zero, falando apenas por telefone com nossos parentes ou amigos. Se a pandemia viesse, vamos dizer, no começo dos anos 1990, os índices de depressão e suicídio tenderiam a ser ainda mais alarmantes. Até porque o isolamento social representaria um choque coletivo terrível, semelhante às degradantes solitárias do sistema prisional.
Marcos Eduardo Neves é jornalista, publisher da Approach Editora e escritor, autor de Nunca houve um homem como Heleno (Zahar).